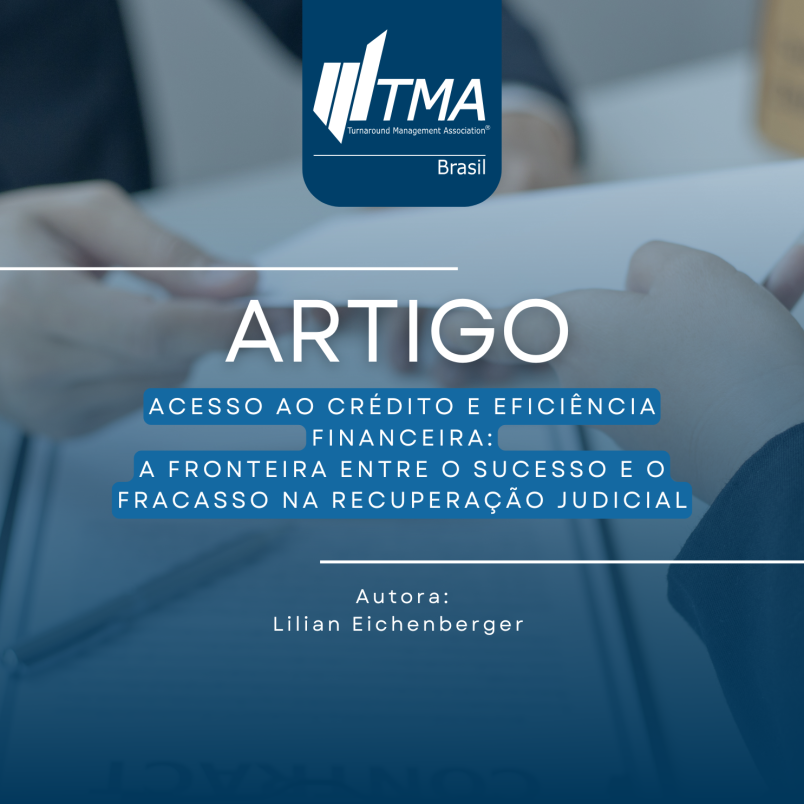
19 de novembro de 2025
Lilian Eichenberger[1]
1. INTRODUÇÃO
Nenhuma empresa quebra por falta de sentença – mas por falta de caixa.
Essa constatação sintetiza o epicentro das crises empresariais: o colapso de liquidez e a perda de confiança. A cada ciclo econômico, observa-se um aumento expressivo de empresas brasileiras ingressando em Recuperação Judicial (RJ), reflexo de estruturas de capital frágeis, endividamento elevado e baixa capacidade de geração de caixa.
A literatura sobre reestruturação empresarial mostra que a viabilidade da RJ depende da capacidade de recompor o equilíbrio financeiro em prazo compatível com a realidade operacional da empresa. Segundo Francis e Desai,[2] a disponibilidade de crédito no início da crise é a variável mais fortemente associada ao sucesso de um turnaround. Essa constatação continua atual em estudos recentes, como o de Schoeman e Meyer,[3] que confirmam que a severidade da crise e o tempo de reação são determinantes na definição da estrutura de capital.
No contexto brasileiro, o problema é agravado pela alta taxa de juros e pela percepção de risco. O custo médio de capital das empresas em reestruturação supera o retorno operacional em até 20%, o que compromete a viabilidade do plano. O acesso ao crédito é, portanto, tanto um fator econômico quanto psicológico: reflete o grau de confiança dos credores e investidores na capacidade da empresa de se reorganizar.
Com base na pesquisa de Eichenberger,[4] desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão de Negócios da Fundação Instituto de Administração (FIA), este artigo discute como o acesso ao crédito e a eficiência financeira constituem pilares da recuperação bem-sucedida, integrando evidências empíricas e contribuições recentes da literatura internacional.
2. O PAPEL DO CRÉDITO NA SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA EM CRISE
O crédito é o oxigênio da economia. Sem ele, mesmo empresas com ativos valiosos e modelos de negócio sólidos colapsam. No contexto da RJ, esse paradoxo se acentua: quanto maior o risco percebido, menor o crédito disponível – exatamente quando ele é mais necessário.
A análise de Munyai e Steyn[5] sobre estratégias de turnaround lideradas pela gestão comparadas às intervenções legais formais mostra que as organizações que conseguiram preservar o fluxo de crédito apresentaram desempenho operacional e taxa de sobrevivência muito superiores. Esse achado é reforçado por Schoeman e Meyer,[6] que observam que a severidade da crise influencia diretamente a disposição de investidores em financiar empresas em distress.
Nos Estados Unidos, o sistema do Chapter 11 oferece o DIP Financing (Debtor in Possession Financing), que assegura novos créditos com prioridade de pagamento, conferindo liquidez imediata e estimulando investidores especializados. Esse mecanismo, estudado por Kabbaj e Fabozzi[7] reduz o risco sistêmico e aumenta a taxa de sucesso das reestruturações financeiras.
No Brasil, embora a Lei nº 14.112/2020 tenha introduzido a possibilidade de crédito prioritário, a prática ainda é incipiente. O mercado nacional carece de instrumentos jurídicos e financeiros que ofereçam segurança aos credores e previsibilidade ao devedor. As instituições tradicionais evitam exposição a empresas em RJ, o que cria um vácuo de financiamento que apenas fundos especializados vêm tentando preencher.
Uma solução intermediária está nos mecanismos de financiamento híbrido e nas linhas de crédito vinculadas a metas operacionais, tema amplamente discutido por Kabbaj e Fabozzi[8] e Schnepf e Arend[9]. Esses instrumentos, baseados em métricas de desempenho, atrelam a liberação de recursos à melhoria de indicadores como EBITDA, margem líquida e eficiência de capital de giro.
Além disso, fatores macroeconômicos como inflação, juros elevados e volatilidade cambial ampliam o risco de crédito. A taxa Selic, mantida em patamares altos nos últimos anos, eleva o custo da dívida e reduz a atratividade dos planos de reestruturação. Essa conjuntura exige que o administrador judicial e o gestor financeiro considerem cenários dinâmicos e trabalhem com margens de segurança ampliadas, incorporando análises de sensibilidade e simulações de fluxo de caixa em diferentes níveis de juros e câmbio.
O crédito, portanto, é mais do que um insumo financeiro: é o reflexo da confiança do mercado na governança e na capacidade de execução da empresa. Restaurar essa confiança é o primeiro passo para o retorno à liquidez.
3. EFICIÊNCIA FINANCEIRA: O ELO ENTRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
A eficiência financeira define a fronteira entre a sobrevivência e o colapso.
Enquanto o crédito fornece o fôlego inicial, é a eficiência que decide se esse fôlego resultará em recuperação ou em desperdício.
Empresas em RJ geralmente carregam legados de desorganização contábil, ausência de orçamento e decisões intuitivas. Essa falta de estrutura compromete o acompanhamento do plano e mina a credibilidade junto aos credores. Segundo Schnepf e Arend,[10] uma redução de 10% no ciclo operacional pode representar aumento de 6% no fluxo de caixa livre – o que, em um contexto de recuperação, pode ser determinante para a continuidade da operação.
Eichenberger[11] constatou que empresas que adotaram práticas simples de controle de caixa e de governança financeira apresentaram três vezes mais chance de concluir com êxito a RJ. Esse achado é compatível com o de Munyai e Steyn,[12] que associam a eficiência contábil e a liderança financeira proativa à credibilidade das projeções do plano.
A eficiência financeira vai além da redução de custos: envolve planejamento orçamentário, análise de sensibilidade, gestão de riscos e cultura de accountability. O gestor precisa equilibrar a recomposição do capital de giro com investimentos seletivos em inovação e produtividade, evitando a tentação de “cortar para sobreviver” sem estratégia de longo prazo.
Como destacam Slatter e Lovett,[13] “a dificuldade não está em definir a estratégia de reestruturação, mas em implantá-la de forma rápida e disciplinada”. Essa disciplina se traduz na capacidade de converter decisões financeiras em resultados operacionais mensuráveis.
A literatura recente (Schoeman e Meyer;[14] Munyai e Steyn[15]) amplia essa perspectiva ao relacionar eficiência financeira à confiança dos credores: quanto mais precisa e transparente a gestão, maior a disposição de agentes financeiros em refinanciar a dívida.
4. ESTRUTURA DE CAPITAL E CUSTO DO CRÉDITO
A estrutura de capital exerce papel central na recuperação.
O endividamento excessivo e a ausência de fontes alternativas de financiamento elevam o risco percebido e reduzem a flexibilidade da empresa em renegociações. Segundo o estudo de Schoeman e Meyer,[16] a adequação entre a estrutura de capital e o estágio de severidade da crise é determinante para o sucesso da reestruturação. Empresas com capital intensivo e baixa rentabilidade operacional tendem a exigir soluções híbridas, como conversão parcial de dívida em participação societária ou instrumentos subordinados de longo prazo.
Em ambientes de alta taxa de juros, o custo médio ponderado de capital (WACC) sobe, comprometendo a rentabilidade esperada. Isso torna essencial a renegociação de prazos e o alongamento da dívida, alinhando o cronograma financeiro ao ciclo de maturação do negócio.
A eficiência, nesse caso, está em alocar recursos escassos nos pontos de maior geração de valor, priorizando operações com retorno líquido positivo. O uso de métricas como ROIC e margem de contribuição passa a ser uma ferramenta de sobrevivência.
A academia recente tem explorado soluções inovadoras, como o uso de convertible notes e performance-linked bonds em reestruturações (Kabbaj e Fabozzi),[17] instrumentos que combinam características de dívida e capital, equilibrando risco e retorno entre credores e devedores. Essa tendência aponta para um futuro em que a RJ poderá se tornar mais próxima de um processo de capitalização estratégica do que de mera renegociação judicial.
5. O CRÉDITO COMO TERMÔMETRO DA CONFIANÇA
O crédito é, em última instância, um espelho da confiança do mercado.
Quando a empresa comunica de forma clara seus resultados, projeta cenários realistas e cumpre seus compromissos, o crédito retorna – ainda que gradualmente.
Lancellotti[18] argumenta que a RJ possui caráter pedagógico: obriga o empresário a profissionalizar sua gestão e adotar padrões de governança. Essa transformação cultural é o maior legado do processo.
A governança financeira torna-se, portanto, um ativo reputacional. Envolve práticas de transparência, limites de alçada, comitês de decisão e auditorias independentes. Ao reduzir a assimetria de informação, a empresa reconstrói a previsibilidade – e, com ela, o crédito.
6. CONCLUSÃO
A Recuperação Judicial é, essencialmente, um processo de reconstrução financeira e reputacional.
Seu sucesso depende da combinação entre acesso ao crédito, eficiência financeira e estrutura de capital coerente com a realidade da empresa.
Sem crédito, não há liquidez para implementar o plano; sem eficiência, o crédito se perde; e sem estrutura de capital adequada, o equilíbrio é temporário.
Para o futuro, o desafio é integrar a legislação brasileira a instrumentos financeiros modernos, criando um ambiente em que investidores, bancos e consultores compartilhem informações e métricas padronizadas de eficiência. É também papel das universidades e instituições de pesquisa aprofundar o estudo empírico sobre desempenho pós-RJ, conectando teoria e prática.
Como afirmam Schoeman e Meyer (2025)[19] a reestruturação financeira é tanto uma questão de capital quanto de comportamento. Recuperar-se é, antes de tudo, restaurar a confiança – interna e externa – e reconstruir a disciplina financeira que sustenta a
[1]Mestre em Gestão de Negócios pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Especialista em Recuperação de Empresas e fundadora da Recupere.
[2]DESAI, A.; FRANCIS, J. Corporate Turnaround Strategies and Financial Recovery. Journal of Business Research, 2005.
[3] MEYER, D.; SCHOEMAN, C. Capital Structure Decision-making for Business Turnarounds Based on Distress Severity and Reasonable Prospect Confluence. South African Journal of Economic and Management Sciences, 2025.
[4]EICHENBERGER, L. Recuperação Judicial de Empresas: Fatores Críticos de Sucesso das Recuperações Judiciais de Empresas no Estado de São Paulo. São Paulo: Fundação Instituto de Administração, 2018.
[5] MUNYAI, L.; STEYN, B. Investigating Management-led Corporate Turnaround Strategies Compared to the Application of Business Rescue Proceedings. SSRN Electronic Journal, 2024.
[6] Meyer; Schoeman, op. cit., 2025.
[7]FABOZZI, F.; KABBAJ, S. Hybrid Financing and Governance Mechanisms in Distressed Firms. International Journal of Financial Studies, 2022.
[8] Fabozzi, F.; Kabbaj, S., op. cit. 2022.
[9]AREND, D.; SCHNEPF, M. Working Capital Efficiency and Financial Distress. Journal of Corporate Finance, 2022.
[10]Arend, D.; Schnepf; ibidem, 2022.
[11]Eichenberger, op. cit., 2028.
[12]Munyai e Steyn, op. cit., 2024.
[13] SLATTER, S.; LOVETT, D. Corporate Turnaround: Managing Companies in Distress. Penguin Books, 2009.
[14] Meyer; Schoeman, op. cit., 2025.
[15] Munyai e Steyn, op. cit., 2024.
[16] Meyer; Schoeman, op. cit., 2025.
[17] Fabozzi, F.; Kabbaj, S., op. cit. 2022.
[18] LANCELLOTTI, L. Lei de Recuperação Judicial e Governança Corporativa. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
[19] Meyer; Schoeman, op. cit., 2025.


